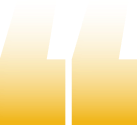
A civilização moderna caminha sobre os escombros de suas próprias certezas. O século XX encerrou-se com o mesmo gosto metálico do início: sangue, medo e ideologia. A promessa de progresso deu lugar ao cansaço. A liberdade, depois de tantas revoluções, tornou-se um fardo. O homem, exausto de ser responsável por si mesmo, volta a pedir um senhor.
O Estado, esse antigo deus das sociedades fatigadas, retorna. Não mais com fardas e marchas, mas com sorrisos e decretos. Seu poder não precisa mais da força bruta; basta o consenso fabricado, a retórica do bem comum, a sedação moral das massas. Em nome da segurança, da justiça ou da igualdade, a autonomia individual é negociada, e o contrato social se transforma novamente em um pacto de servidão voluntária. Quando foi que o conforto passou a valer mais do que a consciência?
As guerras do presente são mais silenciosas, mas não menos sangrentas. Morre-se em Gaza, em Kiev, em regiões onde as fronteiras mudam mais rápido do que as manchetes. Mas morre-se também em democracias fatigadas, onde a morte é lenta e invisível, a morte da vontade, do pensamento, da responsabilidade. O século XXI não precisou reinventar o totalitarismo; bastou digitalizá-lo. O controle agora é algorítmico, o silêncio é voluntário e a obediência é mascarada de virtude.
O corpo do Estado nunca desapareceu, apenas se refinou. O cadáver da burocracia ainda exala seu odor em cada política paternalista, em cada regulação que promete proteger e termina sufocando. Não há nada mais previsível do que o poder travestido de cuidado. A história ensinou essa lição nas valas de Katyn, nas ruínas de Berlim, nos campos da Ucrânia soviética, nas prisões de Caracas. Mesmo assim, ela continua sendo esquecida. Por que a humanidade insiste em confiar no mesmo poder que sempre a escravizou? Por que os mortos do século XX não bastaram como advertência?
O problema não é apenas político, é moral. O homem moderno já não sabe o que fazer com a própria liberdade. Herdou um mundo aberto, mas não um sentido. É esse o retrato do último homem livre: protegido, mas vazio; autônomo, mas incapaz de sustentar o peso da própria consciência. Ele troca responsabilidade por conforto, coragem por pertencimento, verdade por aceitação. A sociedade o chama de “cidadão de bem”, mas ele é apenas um sobrevivente. Será que a liberdade pode existir sem virtude? Pode o liberalismo resistir quando o indivíduo abdica do dever moral de ser livre?
John Milton, em Paraíso Perdido, descreveu a queda do anjo que preferiu reinar no inferno a servir no céu. O homem contemporâneo fez o oposto: prefere servir no paraíso artificial do consumo e da vigilância a reinar sobre o próprio destino. A liberdade, essa chama que um dia incendiou impérios, foi trocada por uma tela, por um slogan, por um aplicativo que decide o que pensar.
Eis o novo Éden: luminoso, acessível e inteiramente administrado. Não há serpente, apenas algoritmos que prometem o bem. Quando o Estado assume o lugar de Deus, o que resta ao homem além de rastejar pelo paraíso que o oprime?
O Estado não precisou matar o homem livre. Ele apenas esperou que o homem desistisse de viver como tal. Quando a liberdade exige sacrifício, poucos permanecem de pé. A maioria se ajoelha diante da promessa de paz e da tirania confortável da segurança.
O cadáver do Estado cresce à medida que o espírito humano encolhe. E não há nada mais assustador do que o silêncio do homem que aceita ser governado em tudo, menos em sua própria consciência. O Paraíso Perdido de Milton termina com a humanidade expulsa do Éden, caminhando em direção ao desconhecido. Não há volta. Mas há uma escolha: continuar caminhando, ou deitar-se ao lado do Estado e apodrecer com ele.
Afinal, quantos ainda preferem caminhar? E quantos, por medo de cair, já aceitaram rastejar?
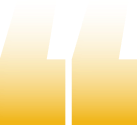
Sem comentários por enquanto!