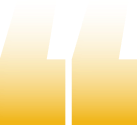
Se o julgamento de Sócrates ocorresse nos dias de hoje, talvez sua sentença não viesse em forma de cicuta, mas por meio de tribunais midiáticos, processos judiciais e linchamentos virtuais. Sua condenação, promovida por uma democracia incapaz de tolerar o dissenso, revela um paradoxo que atravessa os séculos: até mesmo regimes fundados na liberdade podem se tornar hostis à crítica.
No Brasil, onde a opinião muitas vezes se transforma em prova e a justiça cede às pressões da multidão, episódios recentes parecem ecoar esse velho enredo. Não por acaso, na mesma semana, Jair Bolsonaro depõe ao Supremo por suspeita de envolvimento em uma tentativa de golpe, enquanto Léo Lins é condenado por piadas feitas no palco. O que chama a atenção entre os casos não está em suas diferenças, mas na simetria simbólica, na disputa fundamental que está por trás – aquilo que o teatro grego veio a chamar de agon, o elemento disruptivo de uma trama.
O ex-presidente é investigado por suposta participação em uma conspiração golpista. Há delações, documentos, áudios e registros de reuniões — indícios que, sem dúvida, merecem uma apuração rigorosa. O processo é legítimo e necessário. No entanto, o ambiente que o envolve já não se limita à esfera da normalidade jurídica e do devido processo legal. Bolsonaro deixou de ser apenas um investigado; tornou-se personagem central de um enredo simbólico. Já não é apenas alvo de um inquérito, mas o antagonista funcional de um sistema que, para afirmar sua própria legitimidade, parece necessitar de sua ruína. Estaria a Justiça cumprindo seu papel técnico ou encenando uma reparação histórica?
Sua figura mobiliza afetos intensos, e sua eventual condenação assumiu contornos de espetáculo, uma encenação pública aguardada por setores da sociedade e do próprio Poder Judiciário. O que se espera, por vezes, não é justiça, mas catarse. Para muitos, puni-lo seria mais do que aplicar a lei: seria selar a vitória moral de uma narrativa ideológica. Nesse contexto, as garantias processuais tendem a ser relativizadas em nome da consagração simbólica do “lado certo da história”.
É nesse ponto que ressurge a atualidade da teoria do bode expiatório de René Girard. Segundo ele, em momentos de crise, as sociedades tendem a canalizar suas tensões e rivalidades para um único indivíduo, transformando-o em alvo consensual de hostilidade, não porque ele seja o verdadeiro culpado, mas porque seu sacrifício simbólico serve para restaurar uma paz frágil e momentânea. Assim como Sócrates foi condenado para silenciar uma inquietação coletiva, Bolsonaro parece ocupar esse papel ritual: o de figura necessária à recomposição simbólica da ordem. O processo, nesse modelo, deixa de ser instrumento de justiça e passa a servir à dramaturgia do consenso.
Mas se, de um lado, o caso Bolsonaro revela a transformação do processo penal em espetáculo de afirmação institucional, do outro, a condenação de Léo Lins escancara algo ainda mais sensível e consequente dessa simbologia: o avanço do Estado sobre a linguagem, sobre aquilo que pode ou não ser dito, rido ou insinuado.
Léo Lins foi condenado com base na Lei do Racismo por piadas de conteúdo preconceituoso. Suas falas são, de fato, de extremo mau gosto: escandalizam, ferem sensibilidades e, para muitos, transgridem princípios sociais. Trata-se, porém, de um discurso deliberadamente provocativo, sarcástico, produzido no contexto de um espetáculo fechado, dirigido a uma plateia pagante e situado no campo da linguagem humorística. Ainda que desconfortável, sua expressão insere-se no universo da arte e da sátira, territórios tradicionalmente resguardados pela liberdade de expressão em democracias maduras.
Aqui, o problema não é o símbolo, mas a palavra. O que está em jogo não é o uso político de um personagem público, mas a tentativa do Estado de se tornar árbitro do riso — de determinar os limites da linguagem em nome de um ideal de moralidade. Quando o Poder Judiciário se investe do papel de guardião da sensibilidade pública, o risco é que o pluralismo ceda lugar à pedagogia punitiva.Uma democracia não pode punir a linguagem simbólica sem comprometer seu próprio princípio de liberdade. A ofensa é subjetiva; o direito, no entanto, não deveria ser.
O que aproxima Bolsonaro e Léo Lins não é a natureza de seus atos, mas a lógica que os transforma em réus: a substituição da responsabilidade jurídica objetiva por uma culpa de natureza alegórica. Em outras palavras, ambos são julgados, em última instância, por aquilo que desafiam. É nesse ponto que a analogia com Sócrates se revela inevitável. Assim como o filósofo ateniense, eles tensionam os limites do discurso aceitável, em que, um, ao confrontar as convenções da política institucional, e o outro, ao explorar os extremos do riso e da linguagem humorística. Nenhum deles é isento de críticas, mas será que o papel do Estado é filtrar o aceitável? Sócrates não foi condenado por estar certo, mas por ser livre e, a liberdade, quando vista como ameaça, denuncia o esgotamento moral do regime que a condena.
A sociedade assiste, quase inerte, à reconfiguração silenciosa do regime democrático. Em lugar de um Estado de Direito fundado em normas estáveis e garantias universais, ergue-se uma Justiça moldada pela indignação, como se essa pudesse se constituir em fonte legítima do direito. A presunção de inocência cede espaço à construção de culpabilidades folclóricas, julgadas não por tribunais técnicos, mas pela opinião pública.
Nesse cenário, a palavra, seja no discurso político, na sátira ou na provocação, torna-se objeto de controle. Não por acaso, a Bíblia já reconhecia o que todo regime autoritário teme: que a palavra é uma força indomável. No capítulo 03 da carta de Tiago é dito que “a língua é um fogo”, capaz de incendiar toda uma floresta, e que “nenhum homem pode domá-la”. Portanto, não se trata de uma advertência contra o falar, mas do reconhecimento profundo do poder do logos que tanto funda o mundo quanto pode abalar suas estruturas.
É justamente por isso que sociedades livres, conscientes desse poder, optaram historicamente por tolerar o risco da fala livre, em vez de confiar ao Estado a tarefa de decidir o que deve ou não ser dito. Quando a Justiça tenta domar a língua com códigos penais, transforma a inquietação legítima em transgressão punível, e o discurso em delito. O que separa a civilização da tirania é, por fim, a disposição de aceitar esse risco como o preço da liberdade.
Sócrates preferiu morrer a se calar e sua morte revelou que uma cidade que elimina seus incômodos em nome de uma paz aparente, logo se torna incapaz de conviver com a própria liberdade. Bolsonaro e Léo Lins não são Sócrates, mas a democracia que os julga, essa sim, começa a se parecer perigosamente com a Atenas de sua agonia moral. Afinal, quando punir o incômodo se torna rotina, não seria sinal de que a democracia já começou a se punir por existir?
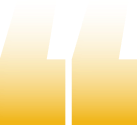
Sem comentários por enquanto!