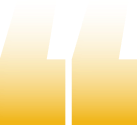
Nos últimos meses, a CPI das BETs chamou a atenção da mídia e da opinião pública ao investigar o mercado de apostas online no Brasil e seus vínculos com influenciadores digitais. Anunciada como uma resposta institucional ao crescimento desordenado das plataformas de apostas e aos relatos de consumidores lesados, a comissão parecia, à primeira vista, uma iniciativa promissora. Porém, como tantas outras CPIs brasileiras, o que se viu foi um verdadeiro espetáculo político: muito barulho, muitas manchetes, e quase nenhuma consequência concreta.
O que era para ser um esforço técnico-jurídico de esclarecimento e proposição legislativa converteu-se em um palanque para performances parlamentares e indignações seletivas. O não indiciamento dos influenciadores, mesmo diante de evidências de promoção de sites ilegais, é o retrato da ineficácia oportunista de um Estado que é severo com o discurso, mas omisso com a estrutura. Viu-se mais uma vez a lógica de um Estado que se alimenta do conflito moralizado, mas que não tem apetite para reformas reais.
Nesse contexto, não é exagero evocar Guy Debord e sua crítica à sociedade do espetáculo. Segundo ele, o mundo contemporâneo é mediado por representações, em que a imagem substitui a substância e o aparente toma o lugar do essencial. A CPI das BETs se encaixa com precisão nesse diagnóstico: um teatro político cuidadosamente encenado para as câmeras, em que o escândalo vale mais que o conteúdo e o julgamento midiático substitui o rigor técnico.
O caso da Blaze, uma das plataformas de apostas envolvidas, foi o centro das atenções. Relatos de manipulação nos jogos, saques não realizados, contas bloqueadas e falta de transparência se acumularam ao longo de meses. Consumidores relataram prejuízos financeiros, e a credibilidade da empresa passou a ser questionada. No entanto, boa parte do alicerce de sua popularização se deu justamente por meio de influenciadores digitais — youtubers, streamers e perfis com milhões de seguidores — que promoviam a marca como uma oportunidade de “diversão e lucro”, omitindo os riscos e sem informar, em muitos casos, sequer a legalidade do serviço.
Durante as audiências da CPI, alguns influenciadores alegaram desconhecimento sobre os termos contratuais da plataforma, afirmaram não serem responsáveis pelo funcionamento do serviço e, em alguns casos, se declararam também vítimas. Outros minimizaram seu papel, tratando a promoção como mera publicidade ou “entretenimento”. Já os parlamentares, em sua maioria, oscilaram entre a teatralização da indignação e a leniência calculada. No final, nenhum dos influenciadores foi indiciado, apesar da constatação de que ajudaram a impulsionar a visibilidade e a lucratividade de um serviço supostamente irregular.
Em um país que já convive com uma hipertrofia legislativa e um cipoal regulatório que afugenta inovação, o foco da CPI deveria ter sido identificar com precisão os gargalos legais e propor um marco normativo eficaz — algo baseado em princípios de liberdade econômica, responsabilidade individual e previsibilidade jurídica. Mas, ao contrário, preferiu-se o velho modelo de CPI como tribunal informal de reputações, no qual se julga pela exposição midiática, mas nada se resolve em termos estruturais.
Do ponto de vista liberal, o problema central não está apenas no comportamento dos influenciadores — ainda que esse seja relevante —, mas no modelo paternalista e populista de atuação estatal. O Brasil insiste em tratar adultos como sujeitos tutelados pelo Estado, sempre à espera de que alguma comissão, alguma canetada, algum decreto os proteja de si mesmos. Esse é um equívoco recorrente em países onde o Estado cresceu demais, mas falhou justamente naquilo que deveria ser essencial: garantir um ambiente de regras claras, seguras e iguais para todos.
A CPI das BETs não teve coragem de reconhecer sua própria ineficácia: preferiu apontar culpados momentâneos — influenciadores, streamers, plataformas — como se o problema fosse meramente comportamental, e não estrutural. Com isso, perdeu-se a oportunidade de debater o que realmente importa. Afinal, como criar um marco regulatório para o setor de apostas que combine liberdade de operação com responsabilidade de mercado? E que permita ao consumidor escolher com clareza e segurança?
É preciso, sim, combater abusos. Contudo, isso se faz com leis claras e mecanismos de responsabilização eficientes, e não com CPIs que se prestam mais ao jogo político do que à construção institucional. Tratar influenciadores como vilões ou vítimas, dependendo da conveniência ideológica do momento, apenas oculta o verdadeiro problema: a ausência de um modelo liberal que reconheça a liberdade como um direito — e não como um risco a ser controlado.
No fim, mais do que investigar a relação entre apostas e publicidade, a CPI serviu para reforçar o pior da política nacional: populismo legislativo, espetáculo de indignação sob medida e uma resistência crônica à liberdade com responsabilidade. Em vez de promover um debate técnico sobre regulação digital em um mercado que já movimenta bilhões, o Congresso preferiu reafirmar sua vocação para o teatro. E, como de costume, quem perde é o cidadão comum, que continua sem proteção real, sem opções reguladas e sem um Estado que saiba o seu lugar.
Perde-se tempo com narrativas enquanto o país adia o que mais precisa: maturidade institucional, previsibilidade jurídica e coragem para confiar no indivíduo em vez de controlá-lo.
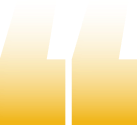
Sem comentários por enquanto!